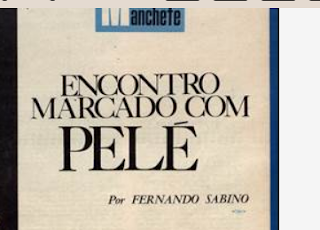Gosto muito de divagar, ganhei até de minha mulher o apelido de Dr. Divago. Há meses sem sair deste buraco onde moro há um ano e batizei de Baixo Glicério, a simples ida à cidade para tomar a 3ª dose da vacina contra a Covid desencadeou em mim uma série interminável de devaneios.
 |
No salão Assyrius,
Theatro Municipal |
A ideia era ir ao posto instalado no Theatro Municipal. Como a grana está curta, iria de Uber até o Largo do Machado e de lá de metrô até a Cinelândia. Ao levantar às oito liguei a TV, a matéria no ar confirmava que esta segunda-feira, 27 de setembro, dia dos Santos Cosme e Damião, era reservada à faixa dos 83 anos e mostrava uma fila imensa no Palácio do Catete, onde eu tomei a primeira e a segunda dose, ambas de CoronaVac. Lena me deu uma nota de dez para pagar o táxi, de repente preferi fazer a primeira etapa de ônibus. Exercitei com ela meu humor negro inventando a história do serial killer de Cosme & Damião que jogava balas na rua para que as criancinhas morressem atropeladas.
Dei sorte: cheguei ao ponto quando passava um ônibus da linha Troncal 8 (ai de mim pegar o Troncal 7, me jogaria do outro lado do Túnel Santa Bárbara), que me deixou defronte ao metrô do Largo do Machado. A escolha do Municipal foi acertada: não havia fila alguma, fui prontamente encaminhado por um senhor simpático ao preenchimento do cartão de vacinação. Pedi a ele um favor especial: que me fotografasse tomando a 3ª dose. Atendeu-me também. Seu nome, Leo Melo, técnico do Tribunal de Contas municipal, atualmente à disposição da Secretaria de Saúde. Expliquei que tinha ganhado (perdido) 35 anos da minha vida na Manchete. Reagiu como todo mundo reage ao ouvir o nome da Manchete, com elogios nostálgicos à grande revista. Quis saber a causa do naufrágio daquele império de comunicação, respondi sucintamente que a editora não resistiu à TV Manchete. Pior: os Bloch não souberam aproveitar o sucesso estrondoso da novela Pantanal em 1990 para dar a grande virada como empresa.
Em poucos minutos saí de vacina tomada – desta vez foi a Pfizer, indiscutível incrementadora da imunidade. Mestre Zagallo, com sua mística numerológica lembrou bem: “Dose de reforço” tem 13 letras!” Aquele entorno do Theatro Municipal me trouxe à memória flashes da minha vida na região:
• Os encontros com Antônio Fraga e sua mulher no bar Vermelhinho, em frente da ABI, na minha primeira visita ao Rio em 1955 (nasci e morava em Curitiba). Escritor marginal (Desabrigo e Outros Trecos), Fraga já foi chamado “o James Joyce do Mangue”. Vendeu siris na “zona” por uns tempos. Foi também mineiro em Minas, garimpeiro em Goiás, lanterninha de cinema, vendedor de perfume francês em bordeis e auxiliar de cozinha no Hotel Glória.
• No meu vigésimo dia como repórter da Manchete, domingo 5 de dezembro de 1965, eu me encontrava com outros jornalistas num cercado diante da Biblioteca Nacional. Do lado oposto da rua, na atual Câmara dos Vereadores (a Gaiola de Ouro), aconteceria – sob grande tensão e proteção de tropas federais – a posse de Negrão de Lima, escolhido em eleições populares como segundo governador do estado da Guanabara. Injuriada, a linha dura militar queria dar um golpe, mas o general-Presidente Castello Branco ainda batalhava para dar à ditadura uma fachada “democrática”. Foi um dos raros momentos em que, como jornalista, senti minha integridade física ameaçada.
• Ao lado da Biblioteca, num prédio ainda mais majestoso, fica o Museu Nacional de Belas Artes. Em sua fachada tem uma frisa com os nomes de artistas da antiguidade, entre eles o de Vitrúvio (80-15 a.C.), o grande arquiteto romano. Durante anos, tive como editor de automóveis na Manchete o André Queiroz, eficiente e divertido. Um dia soube seu nome completo: André Vitrúvio Queiroz, talvez a única criatura no mundo a ostentar tal nome. Explicou-me: “Quando eu nasci, meu pai ficou tão feliz que tomou um porre no Amarelinho. Procurando um táxi diante do Museu de Belas Artes, viu aquele nome na fachada sorrindo para ele: VITRUVIO. Não resistiu.”
• Já que estava ali perto, decidi fazer uma visita ao dono da livraria Berinjela, vizinha da Da Vinci no subsolo do edifício Marquês do Herval. Quando a crise apertou, comecei a vender livros para a livraria do Daniel Chomsky, profissional de boa cepa e gente boa. Inicialmente, eu tinha de levar os livros até ele, o que implicava uma verdadeira operação de guerra: encher uma mala com as edições mais atraentes que ainda guardava em minha biblioteca. O peso era descomunal, eu não a conseguiria levar do fundo da vila, onde aluguei uma casa por 37 anos, até a rua para pegar um táxi. Erguer a mala para colocá-la no bagageiro era outro problema. Portador há anos de uma hérnia inguinal à beira do estrangulamento, eu não podia levantar uma pluma. Se o taxista era jovem, resolvia a questão numa boa. Às vezes eu pegava um chofer mais idoso que eu – e tão lesado quanto – era obrigado a dispensá-lo e recorrer a outro táxi. Acendi velas para o inventor da mala-de-rodinhas, um dos maiores benfeitores da humanidade, praticamente desconhecido. (Bernard D. Sadow, americano de Massachusetts, patenteou o invento em 1972 e morreu de câncer aos 85 anos em 2011.) Descia do táxi na Almirante Barroso esquina de Rio Branco e me arrastava com a mala pela calçada irregular de pedras portuguesas até a rampa em curva do Marquês de Herval.
Um parêntese: quando fiz a Walter Salles um relato de minhas vicissitudes, ele achou que a história do misterioso senhor da mala de livros daria um filme, o personagem conhece uma mulher mais moça e... Fiquei de fazer uma sinopse, mas me enrolei barbaramente misturando ficção e realidade. Imaginei a heroína uma caixa da minha agência de Botafogo do banco Itaú/Unibanco, uma jovem de 40 anos com cabelos dourados num rabo-de-cavalo que lembrava o perfil de uma madona pintada por pintor renascentista florentino, não lembro mais qual. No enredo, o homem da mala e a moça do rabo-de-cavalo se tornam amantes e armam um golpe, durante as filmagens no próprio banco em funcionamento, fingindo um roubo de malotes que – por uma dessas tramas helicoidais borgianas – acontece de verdade. Claro que a ideia não saiu do papel. Em compensação, Waltinho me encaminhou para trabalhos no Instituto Moreira Salles, os mais notáveis foram duas séries para a Rádio Batuta: cinco programas de uma hora sobre a canção de protesto (da Marselhesa a Que País è Esse?) e três programas sobre músicas inspiradas pelas peças do Bardo nos 400 anos de sua morte (O mundo musical de Shakespeare), vale a pena ouvir, aqui vão os links
https://radiobatuta.com.br/documentario/o-som-da-rebeldia/
https://radiobatuta.com.br/documentario/o-mundo-musical-de-shakespeare/
Outra história de cocheira: Francis Ford Coppolla estava entalado há décadas com os direitos de filmagem de On the Road, o romance-manifesto da beat generation. Chegara a fazer testes com Brad Pitt e Johnny Depp que acabaram perdendo a data de validade para os papeis principais. Quando viu Diários de motocicleta, convocou Walter Salles para levar On the Road às telas. De uma geração mais jovem, Waltinho sentiu que precisava fazer um “laboratório” antes de encarar o desafio. Contratou-me como seu personal beat expert e viajou a América de costa a costa, reconstituindo o roteiro de On the Road (poucos sabem que o cineasta é também um vitorioso piloto na categoria GT3 Brasil). Dirigindo seu 4x4 com uma pequena equipe, foi entrevistando no caminho remanescentes da geração beat e simpatizantes (Ferlinghetti, Gary Snyder, Carolyn Cassady, Lou Reed, Philip Glass etc) Fiquei encarregado de municia-lo, do Rio, com a ficha dos dois ou três entrevistados de cada dia, um programa que se estendeu por quase um mês. Foi assim que ganhei meu único cachê de Hollywood, pago em dólares pela Zoetrope Studios do “chefão” Coppola.
Voltando à mala amada: as sucessivas viagens, carregada de livros, a deixarem à beira do colapso. Foi quando, providencialmente, Daniel resolveu comprar os livros em minha casa. Aos poucos fui conhecendo suas preferências e idiossincrasias, devia saber melhor que eu o que vende e o que encalha numa livraria. Eu tinha uma preciosidade, o livro To Bird With Love, um volume pesado em papel supercouchê, 40 x 28cm, numa caixa especial de papelão, só 500 exemplares foram postos à venda, numa edição de luxo feita pela viúva de Charlie Parker em parceria com o artista gráfico Francis Paudras (o anjo da guarda de Bud Powell que inspirou o filme Round Midnight). Graças à intermediação da amiga Carol Parisot, produtora do Copa JazzFest, vendi a um casal de jazzófilos abonados por 2500 reais. O livrão foi comprado em Paris e trazido ao Rio por cortesia de ninguém menos do que o imortal R. Magalhães Jr e sua filha Rosa Magalhães, depois carnavalesca famosa.
De volta à querida Berinjela, Daniel e eu de máscara, perguntei se ele tinha À la recherche du temps perdu em francês. Finalmente, às vésperas dos 84 anos, eu chegara àquele momento de paz em que teria tempo para ler realmente Proust. Aluno precoce da Aliança Francesa, eu lera o primeiro volume aos quinze anos. Assimilara a Síndrome da Madeleine e devorara Un Amour de Swan, em que o ato sexual, praticado numa carruagem, era nomeado como “faire Catleya”, alusão à orquídea que portava a heroína Odette, presa ao vestido por um colchete. Na Berinjela só havia Proust em português. Lembrei o velho Jorge Zahar, que insistia: “Por favor, evitem traduções, se esforcem sempre para ler um livro na língua original”. Realmente, a primeira frase de Em busca do tempo perdido é intraduzível, o decassílabo: “Longtemps je me suis couché de bonne heure”. Só o fantasma de Shakespeare redimiu a arte da tradução. O seu Remembrance of Things Past (do Soneto 30) é considerado o melhor título da saga proustiana, mais belo até que o original francês.
Daniel desconhecia os percalços e dissabores da minha diáspora de Botafogo para Laranjeiras. Ele mora com a família numa casa nas imediações do ristorante Mamma Rosa, perto de mim. Reclamei do Baixo Glicério, não existe por aqui sequer um Caixa 24 horas. Quando a Covid fechou a agência do Itaú na Rua das Laranjeiras, eu tinha de ir pegar dinheiro no Largo do Machado. Suco de tomate para meu Bloody Mary eu tenho de ir comprar no Largo do Machado. Daniel se interessou pelo Bloody Mary. Embarquei logo numa dissertação da cultura etílica que é uma das muitas facetas do meu perfil anarco-hedonista: “O Bloody Mary é o drinque do Day After, o cura-ressaca ideal. Vodca, suco de tomate, uma ou duas gotas de molho inglês (ou Tabasco) num copo longo e um talo de aipo para agitar. O Bloody Mary está fazendo cem anos e foi criado no meu bar favorito, o melhor do mundo: o Harry’s New York Bar de Paris. Ali foram também inventados os drinques French 75, Monkey Gland e Sidecar – um sujeito chegou de moto, o companheiro saltou do sidecar e criou a bebida.”
Foi no Harry’s que, depois de um concerto dos irmãos Nat e Julian “Cannonball” Adderley no Olympia, eu, Joaquim Pedro de Andrade, Marilia Carneiro e Maria Lúcia Dahl (as irmãs Pinto, antes do sobrenome conjugal), planejamos meticulosamente o sequestro da estatueta do Manneken Piss em Bruxelas – um gesto transgressor de repercussão internacional – iríamos abduzir o Manequinho no carro de Neusa Azambuja, funcionária da representação brasileira na Unesco. Planejamos tanto que deu em nada. Às cinco da madrugada, trocamos os vapores de álcool e nicotina do Harry’s pelo frescor da clara manhã de primavera no Jardin des Tuileries, caminhando a esmo numa das paisagens mais belas deste planeta.
Nesta pequena viagem (com escalas) à Cinelândia fui longe, não? De volta para casa, encontro na saída do metrô do Largo do Machado a conexão de ônibus com o Silvestre, me deixará no ponto das Laranjeiras antes de embicar à direita para a rua Alice. Espero quase vinte minutos sentado no pequeno ônibus, os vinte assentos vão sendo ocupados, um baleiro vende suas promoções com uma penca de guloseimas de quase dois metros de altura: biscoitos, amendoim, drops, balas, paçoca, pipoca, achei que o coitado não ia vender nada, mas os passageiros, por falta do que fazer, começam a comprar, afinal, lembrei, é dia dos santos gêmeos Cosme e Damião. Tecnicamente sou ateu, mas a religião me atrai – não por seus aspectos mais deletérios, a crendice, o fanatismo – mas por seus rituais, a música sacra, o silêncio das catedrais, as abobadas góticas, os vitrais em rosáceas – por acaso os sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória começaram suas badaladas alegres do meio-dia. Adoro também as histórias da Bíblia, matriz literária única, e a vida dos santos – hagiografia para os íntimos – os milagres e os martiriológios. Pouca gente sabe quem foram Cosme e Damião. Nascidos na Egeia, Síria, praticaram a medicina de graça e por não renegarem sua fé cristã foram decapitados em 303. O dia de São Cosme e Damião é celebrado também pelo candomblé, batuque, xangô do Nordeste, xambá e pelos centros de umbanda: associados aos meninos de Angola, irradiam bem estar, desfazem feitiços e curam enfermidades.
 |
Franco Zefirelli e Liza Minelli: badalação da estreia da Traviata
no Municipal. Foto Manchete |
Ah, sim, como pude esquecer? O local da vacinação foi o Salão Assyrio do Theatro Municipal, que foi restaurado por Adolpho Bloch quando, a convite do governador do Rio de Janeiro, Faria Lima, dirigiu a Funterj (depois Funarj) com o salário simbólico de um cruzeiro. Cito Arnaldo Niskier:
“Adolpho mandou vir da Itália, de começo do seu próprio bolso, todo o cobre que revestia a cúpula, deteriorada por tiros dados aos sábados por gentis frequentadores do Bola Preta. Deu ao palco mobilidade mecânica até então desconhecida, reformou os banheiros e o clássico foyer, trouxe da Bélgica a nova mesa de iluminação, para depois se concentrar no que talvez tenha sido a sua maior obra: a Central Técnica de Inhaúma. Com isso viabilizou uma programação artística muito mais intensa, a partir da clássica Traviata, montada por Zeffirelli (um luxo!), em março de 1979. E depois, a montagem de 23 óperas e incríveis balés, a partir de Copélia.”
 |
| O extinto Restaurante Assyrius. Foto Reprodução Facebook |
No Salão Assyrio do Municipal aconteciam os antigos bailes de máscaras e funcionou um cabaré onde Pixinguinha tocava com seus Oito Batutas. Foi ali que Adolpho Bloch instalou na sua gestão o Restaurante Assyrius, com a cozinha do seu lendário chef Severino Ananias Dias. Acho que hoje guardo melhor lembrança, não das óperas que Adolpho nos obrigava a assistir, mas dos fabulosos banquetes proporcionados por mestre Severino nas noites de estreia.